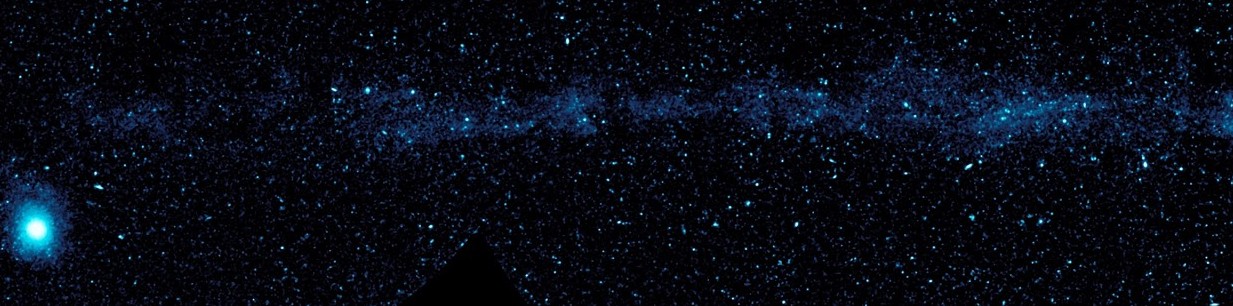José era acostumado a fazer aquele caminho. Passava por ali todas as noites, invariavelmente, inclusive nos dias de fim de semana. A estrada era de pouco movimento, depois de ter perdido a condição de via única, face à construção de uma rodovia quase paralela, asfaltada, com traçado de melhor engenharia. Antes, muito antes de perder a condição de via principal, erguia-se à margem daquela estrada uma casa que chamava a atenção de todo o mundo pelas linhas de sua arquitetura, muito bonita e elegante, contrastando com a simplicidade das demais casas ali edificadas. Ao tempo em que nosso personagem começou a fazer daquela estrada o seu caminho de todos os dias, a casa majestosa de antes só exibia mesmo alguns vestígios de sua fundação.
Muito se comentava, nas cercanias daquela que havia sido uma grande mansão, sobre o luxo e a riqueza em que viveram os seus proprietários, integrantes de família descendente de imigrantes, gente muito poderosa e próspera, que fora vítima de inesperado surto de doença até hoje inexplicável, o qual levou, de vez, todos os que ali habitavam, razão por que ela, dali em diante, passou a ser tida como um lugar maldito e que, por isso, foi ficando no abandono durante o passar dos anos e das intempéries, estas as grandes responsáveis enfim pelo estado de ruína em que ela ficou.
José também sabia de todas as estórias que se contavam sobre aquela casa e os personagens que nela habitaram.
– Meu Deus do céu, José! O que é isso? Por que estás tão pálido?
Ele quase não tinha condição de falar. Gesticulou, mostrando a condição em que estavam as suas calças.
Creuza não demorou a perceber a verdadeira matéria que escorria pelas pernas do seu marido, pois o seu odor forte logo denunciou tratar-se de…m…., muita m…
– Meu amor, vai ser preciso muito sabão para limpar isso aí – disse Creuza, levantando o candeeiro acima de sua cabeça.
O marido tanto tremia e suava, que a mulher largou ao chão, sem o menor cuidado, o objeto de iluminação que trazia consigo, para poder sustentar José no exato momento em que ele desmaiou de vez.
Sujo do jeito que estava, José foi levado para a cama, onde sua esposa lhe dispensou cuidados com todo o carinho e atenção, enquanto ele, meio sonolento, repetia constantemente:
– Maaas… maaas… maaas… – e só conseguia dizer isso mesmo.
Amanheceu o dia. O sono de José o deixou demorar-se na cama por tempo além do que lhe era de costume. Aquilo não era normal. Creuza mesmo vira, assim que o marido chegara a casa, que algo de errado tinha acontecido. Começou a se preocupar, sobretudo porque morava com ele sozinha naquela casa, e não havia ninguém com quem pudesse compartilhar as suas naturais apreensões. O vizinho mais próximo morava a dois quilômetros de distância.
Creuza, na manhã daquele dia, contara, porém, com a visita que, em muito boa hora e inesperadamente, lhe fizera a sua sogra. Como precisava ir à cidade, falar com um farmacêutico e contar o que se passara com o seu marido, a visita que lhe estava fazendo dona Matilde, por isso mesmo, chegara na hora certa. E, embora não lhe devotasse qualquer desconfiança, não adiantou nada do que se passara com José na noite anterior, porque suas apreensões haviam diminuído diante do sono tranqüilo que estava tendo o seu marido.
A pé, começou Creuza a fazer o mesmo trajeto que o seu esposo fizera na última noite, sendo, porém, no rumo contrário. Um fato, no percurso, lhe chamou a atenção. Ao passar no trecho da estrada que fica defronte às ruínas da casa já mencionada, viu grande número de pessoas que, curiosas, se interrogavam diante de um buraco recém-aberto, de mais ou menos quarenta e cinco centímetros de diâmetro, ao pé de um enorme oitizeiro existente à margem da estrada, exatamente entre esta e as ruínas da casa já referenciada. A pergunta que todos se faziam era sobre quem teria feito aquele buraco ali, pois se tratava de um lugar que todos estavam acostumados a vê-lo sempre coberto por uma relva bem verde e viçosa e agora estava ali aquele desmantelo, aquilo tudo revirado, sem que se soubesse quem tinha sido o responsável por aquilo. Creuza também se fez interrogar nesse sentido, sem, contudo, ali se demorar, porque tinha que ir adiante em busca de remédio para o marido.
A casa de José estava mesmo um verdadeiro rebuliço, quando sua mulher retornou da cidade. Estava cheia de parentes e amigos, que já haviam sido convocados para tentar acalmá-lo. É que alguém da redondeza estivera ali e tocou no assunto referente ao buraco enigmático existente ao pé do grande oitizeiro, como já falamos. José, ante tal informação, estremeceu. E gritava. Gritava para todos ouvirem:
“Você,maldito,havia falado que era para mim. Eu sei que tive culpa. Fui fraco, fraquíssimo muito fraco mesmo.” .
– Que é isso José? Você está variando, meu filho? – tentou acalmá-lo a sua mãe.
José, de repente, caiu num estado ensimesmado, falando como se não tivesse ninguém ao seu redor:
“Eu estava, maldito, caminhando, fazendo o meu percurso de sempre. Do meu trabalho para a minha casa. De repente, ali, na cabeça da ladeira do Jocelim, você me aparece. Sim, eu tive medo. Quem não teria? Pensa posso esquecer a sua imagem? Eu me lembro bem haver parado a minha caminhada. Tinha acabado de preparar o meu cigarro de palha. Ventava um pouco e, para mais facilmente acender aquele meu cigarro, tirei o chapéu e protegi o lume do fósforo. Estou eu me deliciando com as primeiras baforadas do meu cigarro, quando, ao tirar o chapéu do rosto e levantar a cabeça, que vejo eu? Que vejo eu? Você, maldito. Em forma de cachorro, ostentando um corpo gordo, tão gordo de chamar a atenção. Você olhava para mim com olhos fuzilantes. Eram mesmo de causar terror. A sua boca, aquela boca enorme, cheia de dentes de uma cor diferente dos dentes de qualquer raça canina. Era ouro, maldito, era ouro só o que eu via em sua boca.”
Todos os presentes se entreolhavam estupefatos com o que acabavam de escutar. Tentaram colocar José na cama. Ele resistia, estrebuchava, mediante uma força que não era normal. Rangia os dentes, espumava, ao mesmo tempo em que falava com voz bem forte e trepidante, olhos fixos no teto, assim:
“Aceitei, maldito, caminhar, seguindo você, ladeira abaixo. Só eu sei mesmo como as pernas me tremiam. Aliás, tremia era o corpo todo. Sempre via você olhar para trás para me fitar e, num gesto com a cabeça, a língua de fora, os mesmos olhos fuzilantes de sempre, como que a me pedir para acelerar os passos. E eu obedecia, não sei por quê. Bem defronte àquele grande oitizeiro, você me pediu para eu parar. Assim o fiz. Senti, naquele momento, que a sua pretensão era tomar conta de mim. Não aceitei a sua imposição. Fiz tremendo esforço para sair dali, e consegui, graças a Deus. Não sei como consegui chegar em casa. Estou agora com os meus. Largue-me, infeliz!”
…………………………………………………………………………………
Adiantando-me, agora, em seis meses, mais ou menos, ao tempo do relato ora feito, lembra-me a inesquecível figura do velho Ulas, pessoa de cor branca, mas de um branco diferente, puxando para o amarelo-claro, destacando-se em sua face os lábios grossos e dentes grandes, compridos. Era a pessoa encarregada de ordenhar as vacas que pertenciam ao meu pai e que, depois, passou a ordenhar as suas próprias vacas, no estábulo que aprontara atrás de sua casa, na rua São Bento, onde, muitas vezes, bem cedinho, fui, copo à mão, já com a quantidade exata de açúcar, tomar leite ordenhado na hora.
Interessante, verdadeiramente, é que mais ou menos nesse tempo já mencionado, após o fato acontecido com José, passou-se a perceber u’a mudança radical na vida do antes simples senhor Ulas, mudança essa que, segundo as conversas, advinha da fortuna que o seu filho único, Janu de F., conseguira, do dia para a noite.
– Eu vi, eu vi…
Era o velho José de Noca, morador das proximidades das ruínas da mansão, à beira da estrada, quem confessava, na casa do meu parente, quando este havia se recuperado daquele estado em que ficara por conta da visão terrível que tivera.
– Eu vi, não estou mentindo. Eram umas duas e meia da madrugada. Encostou um caminhão na estrada, bem defronte ao oitizeiro. Dele saltou um homem. Como era noite de lua, deu para notar que se tratava de uma pessoa de cor branca, de estatura média para alta, cabelos castanhos. Trazia à mão uma enxada e na outra, uma pá. Ao seu redor, eu vi se formando um círculo de uma névoa que mais se intensificava à proporção que ele ia cavando, fazendo um buraco. Escutei um gemido de dor, uns ais em seqüência de tons que deixavam notar uma sensação de alívio por parte de quem os pronunciava. Até que, por último, vi quando o homem branco retirou de dentro do buraco um baú redondo, do tamanho de um pneu do caminhão que estava ali estacionado. Quando precisamente o baú foi posto nas costas do homem branco, aquela névoa que se formara desapareceu por completo, inclusive os gemidos e os ais que os meus ouvidos registravam. E mais que depressa, aquele homem colocou o baú no caminhão, no banco ao lado do motorista, ligou o motor do carro e saiu imprimindo alta velocidade. Logo depois, caiu uma chuva muito forte, muito forte mesmo, tão forte que uma enxurrada quase tomou toda a estrada.
– Você está inventando, José de Noca. Não tem vergonha, nessa idade?! – interveio Creuza.
José, meu primo, olhava para sua esposa e balançava a cabeça, como querendo dizer que não concordava com ela. Era verdade, sim. José de Noca não estava mentindo.
Os anos se passavam e cada vez mais se escutavam comentários sobre a prosperidade de Janu de F.. Enquanto isso, o primo José, que antes já não mantinha uma vida regular, passou cada vez mais a decair, a se dedicar sobretudo ao jogo, perdendo, por isso, a confiança de todos os que já lhe haviam dado a mão, inclusive o meu pai.
Até que um dia, aos prantos, Creuza chegou com a triste notícia. José se suicidara. Ingerira todo o conteúdo de um vidro de formicida.
– Pode ser que eu esteja errada, mas a morte do meu marido tem a ver com aquela maldita visão…
Creuza estava coberta de razão.